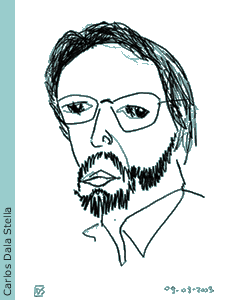 |
Gazeta do Povo
Curitiba, 13 de dezembro de 2004
Caderno G - Cristovão Tezza fala de seu último livro e de sua relação com o mundo e a própria obra

Na trilha do pensamento

O autor de O Fotógrafo escreve como quem percorre o fluxo da consciência
Joanita Ramos
Ao ler O Fotógrafo, de Cristovão Tezza, é possível que o leitor sinta-se tentado a observar o próprio modo de pensar – será que todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito? – e perseguir um pouco os próprios pensamentos, como os autor faz com os de seus personagens. Cada um deles, a seu próprio modo, pensa sobre a sua ação cotidiana e – ao mesmo – nos grandes problemas de sua vida, nas decisões que precisam ser tomadas no âmbito pessoal, em questões de grande amplitude, como as eleições presidencias. Ou em pequenas bobagens, como o fato de faltar um dedo ao presidente.
O protagonista é um fotógrafo, cuja mulher, Lídia, é aluna e amante de Duarte, que é marido de Mara, a analista de Íris. O círculo se fecha: Íris deve ser fotografada pelo protagonista, por conta de um contrato escuso firmado entre o fotógrafo e um desconhecido.
Os personagens dessa rede e outros menos importantes, que os circundam, mantêm contatos diretos e indiretos entre a manhã e a noite de um mesmo dia.
O título da obra se justifica não apenas pela profissão do protagonista. O livro é capaz de revelar os pensamentos do leitor mais envolvido, como um fotógrafo que – segundo um dos personagens – permite ao fotografado ver a si mesmo. Mas o leitor também pode fantasiar – compartilhando esse recurso com os personagens – que O Fotógrafo revela o autor, em sua saudável pretensão de se apropriar de uma dinâmica aparentemente impenetrável, que é a do pensamento humano. Talvez numa tentativa de "representação da consciência", coisa que um dos personagens, Duarte, diz ser "o maior mistério da linguagem literária".
Em O Fotógrafo, "o narrador jamais entrega a primeira pessoa ao personagem", como faz questão de enfatizar o autor. É um modo de perguntar: qual é o lugar do indivíduo? Enquanto lança a interrogação, nesta conversa, ele responde a outras, sem o menor pudor de justificar ao leitor as escolhas feitas para sua obra mais recente.
Caderno G – Você faz ficção com seus personagens e eles criam outros planos de ficção com os próprios pensamentos, imaginando situações, reações etc. Partiu da observação do seu próprio modo de pensar para chegar a essa forma de narrativa?
– O homem é um criador de devaneios. A gente está sempre projetando o futuro. As correntes modernas têm um certo fetiche pela narrativa com fragmentos, como se ela fosse mais real. Mas toda narrativa é um modo de observar e todo olhar é organizador. Eu simulei uma fragmentação, mas a narrativa nunca perde o fio organizador.
– No livro, você apresenta o meio acadêmico...
– Há uma tentação grande de tentar descobrir quem é quem. Algumas pessoas brincam: 'quem é o professor Duarte?' (professor que, no livro, inicia um relacionamento amoroso com uma aluna). Mas é totalmente ficcional. Como todo personagem, ele é uma síntese de um olhar, uma visão de mundo.
– Quando você usa referências, como o Café do Teatro e outros lugares bem reais de Curitiba, se preocupa com coisas como meshandising ou o que os proprietários vão achar?
– Eu me sinto bem à vontade falando de referências concretas. Eu precisava de referências concretas. O leitor sente quando o autor está falando de um espaço familiar, dá uma certa aura para o texto. Mas uso Café Teatro, e não Café do Teatro. Os pontos geográficos são falsamente precisos. Falo de um boteco na Benjamin Constant, que eu não sei se existe.
– O uso por uma das personagens da expressão "extroversão inaquedada" também parece bem curitibano...
– É. O curitibano não se dá bem com a extroversão. Um curitibano extrovertido sempre parece ter algo errado. Alguma coisa fora de foco.
– Você descreve miudezas do cotidiano – como a dúvida de um personagem entre ter cochilado ou apenas imaginado que cochilou...
– O fotógrafo está soterrado pelo fragmentos da cabeça dele. E tem o aspecto de que a vida é essas pequenas coisas. Não é a síntese
posterior.
– E quanto às coincidências, como uma velha que pede a mesma informação, na rua, ao fotógrafo e, mais tarde, ao amante da mulher dele? E a repetição dos mesmos nomes para diversos personagens?
– Quis criar uma rede de relações que transcende os indivíduos. A classe média está sob os mesmos sistemas valorativos. Todo mundo pega o mesmo folheto na rua, fala com as mesmas pessoas. Qual o lugar do indivíduo? Os nomes não são relevantes.
– O fotógrafo resiste ao uso da máquina digital. E você? continua resistindo a usar o computador para escrever seus livros?
– Continuo escrevendo à mão (mostra os manuscritos em páginas de cor amarela, com as primeiras opções de título para o livro: O Fotógrafo Inacabado, O Fotógrafo Inútil, A Máquina de Pensar).
– Você se preocupa com a recepção do livro?
– Com a recepção do leitor, sim. Com a recepção da crítica, em termos. Hoje, ela é menos importante. Com os leitores tenho algumas surpresas. As mulheres estão gostando muito do livro, o que me deixa feliz, porque elas lêem mais.
– Um dos seus personagens fala em "graus de moralidade". O que autor pensa a respeito?
– Todos os sistemas de valores são gradativos, não acredito em valor absoluto comum. E nós vivemos numa zona cinzenta: um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Esse valor somos nós que decidimos. Estamos sozinhos. Mas ninguém pode deixar de levar em consideração as outras pessoas. Aí, estamos levando em conta a ciência, que é bem diferente da ficção. A ficção põe à prova as verdades em situações muito específicas, que as relativizam.
– Outra personagem diz que não há solidão no mundo, mas "falta de solidão" no mundo...
– É a Lídia. A experiência de ter uma filha impede que ela fique sozinha. Como autor, penso que vivemos o "admirável mundo novo", em que se pensa que a pior coisa é ficar sozinho. Falta o lado reverso: a solidão como valor, o peso do intrepectivo. Ficar sozinho é bom.
 voltar voltar
|