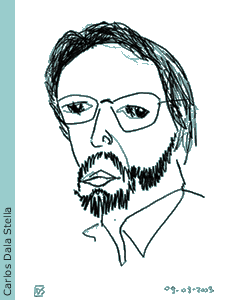 |
CORREIO BRAZILIENSE
Caderno Pensar
Brasília, 8 de setembro de 2007
Entrevista
Cristovão Tezza
Escritor revela que teve de superar o medo da exposição pública com o lançamento de
O filho eterno
Carlos Marcelo
Da equipe do Correio
Sérgio de Sá
Especial para o Correio
Curitiba não tem carnaval de rua; ou seja, para se expor publicamente, nem mascarado, uma vez por ano. "É uma cidade tranqüila, pequena, não tem muito o que fazer: você acaba lendo e escrevendo", conta o catarinense Cristovão Tezza, morador da capital desde 1961. Ele reconhece que o fato de morar em uma cidade de características provincianas ampliou o medo de ter a intimidade devassada, "de ficar pelado na praça", com o lançamento do décimo-terceiro romance, O filho eterno. No livro, Tezza parte da experiência autobiográfica com o filho mais velho, portador da Síndrome de Down, para criar uma narrativa forte, às vezes impiedosa, sobre o impacto da descoberta e o estabelecimento da convivência. A seguir, o professor universitário e autor de livros premiados como Breve espaço entre cor e sombra, O fotógrafo e O fantasma da infância (um dos três que estão sendo relançados pela Record, novamente a editora de Tezza), fala ao Correio sobre a nova obra.
Como surgiu O filho eterno? Houve algum desvio de rota ou saiu como você imaginava?
Nos últimos 26 anos, que é a idade do Felipe (filho do escritor), eu nunca pensei em escrever sobre tema. Não fazia parte do meu mundo. É como se tivesse um bloqueio: jamais toquei nesse assunto. E de uma década pra cá, percebi que tinha que enfrentar isso. Até por uma questão ética minha, de escritor: porque já que tenho uma literatura não biográfica, mas de envergadura confessional, não podia morrer sem jamais escrever uma linha sobre o fato mais impactante da minha vida. Até imaginei um ensaio sobre a relação do pai com o filho. A primeira pegada era de fazer um ensaio. Mas eu não consegui porque teria que ser uma geladeira para escrever como um ensaísta e manter uma certa distância, ter um olhar objetivo para o fato. Decidi, então, fazer um depoimento pessoal. Foi assim que eu fui para o computador. Nem pensava em literatura, porque O fotógrafo, por exemplo, foi todo escrito a mão.
E os romances anteriores, também foram escritos a mão?
Todos. Exceto O fantasma da infância, que foi curiosamente escrito num (microcomputador) X T, aqueles antigos (risos), aquele de fósforo verde. Quando comecei O filho eterno vi que também não conseguia falar do eu ali. Iria mentir demais da conta… A chave mesmo veio com a minha linguagem que é a linguagem romanesca, a linguagem de ficção. Quando eu me transformei em ele, tive várias libertações ao mesmo tempo: primeiro a do massacre biográfico, o compromisso com a verdade biográfica. Deixei isso de lado para centrar fogo na questão da relação do pai com o filho. Aí me senti à vontade para me ver de longe, como um personagem.
Há, também, o distanciamento trazido pelo tempo…
Sim, porque eu não sou mais aquela pessoa de trinta anos atrás. E só o distanciamento do tempo me deu condições de escrever o livro. E aí, sim, quando eu escrevi o primeiro capítulo, percebi: tenho tudo aqui. Tenho a linguagem, o personagem, as estações, agora tenho que ir em frente, não é? Foi um livro que eu escrevi entre um ano e meio, dois anos, mas também muito pausado entre um capítulo e outro. Num certo sentido, foi fácil: não fiz nenhuma remontagem. Praticamente todas as relações das variações de tempo no espaço do pai com o filho, do presente com o passado eles, saíram meio automaticamente.
E, nesse sentido, O filho eterno é muito diferente dos outros romances, que são bem compartimentados, divididos em dois. Já nesse…
Nesse eu soltei um pouco da corda emocional. Achava que isso iria dar força ao livro. Não estava tão interessado na questão estrutural: a narrativa era uma questão ética, moral, existencial entre pai e filho.
Você tinha algumas referências de outros romances ficcionais sobre o mesmo tema?
Tem Uma questão pessoal, do Kenzaburo Oe. E, na mesma época, li um outro de um italiano, o (Giuseppe) Pontiggia, que teve um filho com lesão cerebral e escreveu Nascer duas vezes, ensaio com capítulos em que ele vai contando o dia-a-dia dele, a relação com o professor da escola, a relação com o filho etc. Então ficou uma mistura dos dois. Mas há uma terceira chave, a mais importante de todas: quando li Juventude do (J.M.) Coetzee, por causa da maneira brutal com a qual ele é capaz de falar dele mesmo. Ele transforma as relações amorosas do personagem, que são assim de uma vileza imensa. Então, quando comecei a escrever, tinha essas três vertentes: um pouco de ensaio, a questão romanesca do livro e a questão do distanciamento, de eu me olhar realmente como personagem, sem piedade.
Parece que os laços de família estavam sumidos da literatura brasileira e estão voltando agora.
É verdade. Acho que, aos 55 anos, você começa a revalorizar estabilidades familiares: pensa nos filhos, no valor de formação. Ao mesmo tempo eu olho pra trás para a geração dos anos 60, que queria implodir a família. Sou de uma geração que se dedicou dia e noite para dinamitar o conceito de família. Como nas peças de Tennessee Williams, no realismo americano dos anos 40 e 50, o objetivo era desmontar aquela suposta felicidade do grupo familiar como uma construção da burguesia ou do capitalismo. E realmente foi implodido, mas acho que está voltando, ao menos do ponto de vista afetivo. Até porque já não é uma família nuclear como aquela clássica em volta da televisão, agora é toda fragmentada, em volta do computador. O grau de informação da juventude é infinitamente maior, a idéia de separação de pais já não é trágica, foi incorporada ao dia-a-dia.
Ao terminar de escrever, você falou que sentiu medo. Quem sentiu medo? O escritor ou o pai do Felipe?
O pai do Felipe. Era o medo da exposição. Sempre fui um cara extremamente discreto. Ninguém sabia nada da minha vida, mesmo quem convivia comigo não sabia que eu tinha um filho com síndrome de Down. Então, de repente, você se vê exposto porque obviamente o leitor que me conhece vai me reconhecer ali e pensar: essa é a história dele. Tem um monte de invencionice, mas o grande eixo do livro é verdadeiro. E ainda é mais difícil porque eu sou um cara de Curitiba, uma cidade que não tem carnaval. Você se expor na rua é uma coisa vergonhosa. Tem que ficar quieto na sua casa.
E Curitiba é uma boa cidade para um escritor?
Sem dúvida. Eu, pelo menos, gosto muito. Mas tem algumas fantasias. Dizem, por exemplo, que Curitiba é uma cidade de escritores. Não é verdade. Tem tantos escritores como Porto Alegre, Florianópolis, Brasília ou qualquer cidade média do Brasil. Não há nada de excepcional. A não ser, claro, Dalton Trevisan, uma figura fantástica.
Aparece nos seus livros o conflito entre o vencedor e o fracassado. Esse é um tema da sua geração?
Bem lembrado. A minha geração cultuava o fracasso, era uma qualidade humana. Ser bem-sucedido num mundo corrupto, no mundo capitalista, no mundo não-utópico era o seu fracasso como ser humano. Então, o fracasso existencial era uma forma de ser verdadeiro e autêntico; ou viver com a natureza, ser pobre, um projeto franciscano. Isso estava na alma, no espírito dos anos 70. Mas quando as utopias começam a ir para o espaço, o que você tem que fazer para ganhar dinheiro? Onde é que está a sobrevivência? Quais são os valores humanos que precisam ser cultuados? As pessoas não sabiam mais onde estavam.
O escritor, então, pode ser bem-sucedido?
Obviamente que sim, não há nada contra. Porque aquele sonho, na verdade, era um sonho perverso. Agora vejo que havia uma série de empulhações filosóficas na idéia de viver com a natureza, a idéia do bem rousseauniano de que as pessoas são todas boas e a sociedade é que estraga. Hoje eu acho absolutamente o contrário: as pessoas são cruéis, mas a sociedade pode melhorá-las. Mas foi um processo doloroso de transformação. Quadros mentais que foram substituídos. E a gente parece que arrasta um monte de cadáveres, tentando recuperar aquele tipo de mundo que não existe mais. Há situações muito objetivas, muito práticas de sobrevivência.
Ao contrário de outros livros, O filho eterno tem apelo para um público maior, que não acompanha a sua obra.
Tem um apelo paralelo, sim, por conta da questão do filho especial. E é um perigo porque é o tema que bota toda as cascas de banana para você cair: auto-piedade, discurso religioso, lição de moral, sentimentalismo fácil… Todos os tipos de armadilha. E, anos atrás, eu tinha medo de escorregar. Quer dizer, eu não me sentia escritor o suficiente para enfrentar essas armadilhas.
As pessoas podem procurar a biografia, não a literatura, como aconteceu recentemente com Bernardo Carvalho e o romance Nove noites, por exemplo.
Isso fatalmente pode acontecer, mas aí já não é mais da minha conta. E o que tem de estritamente literário no livro é muito forte. Ou seja, se alguém for buscar um apoio moral ou uma orientação, vai quebrar a cara. Mas tem outra coisa: se você entende, como eu entendo, o romance como um modo de apropriação da linguagem que se alimenta de todas as linguagens sociais que estão aí, não há nada de errado com essa mistura de biografia, autobiografia e ficção. Ou seja, pode até ter componentes biográficos, mas não tem aquela presunção de verdade que é típica do ensaio, da ciência.
No romance, a experiência de ter o filho se confunde com a experiência de formação do escritor. No caso, o escritor-personagem de O filho eterno, que pode pode ser o Tezza ou não.
Para mim, foi uma libertação. Sinceramente: como escritor, eu precisava escrever esse livro. Parece que saí de uma caverna escura.
Por quê?
Porque era um tema que estava engasgado. Como é que eu podia enfrentar isso, de ficar pelado no meio da praça? Era essa a minha sensação.
Agora, já do lado de fora da caverna, para onde você pode ir?
Acho que serei um escritor mais tranqüilo a partir de agora. Tenho o projeto de escrever um livro de contos, um gênero que eu nunca mais experimentei desde o primeiro livro. Já surgiu também a idéia de um novo romance. Tenho até uma primeira página escrita assim, no impulso. Mas é uma coisa que vai esperar uns dois anos para sair.
Você é, hoje, o escritor que ambicionava ser quando começou a escrever?
Acho que não. Em vários momentos, sinto que fiz boa literatura. Mas é uma guerra que não se ganha nunca: todo livro é sempre um livro de iniciante, mesmo com 30 livros na bagagem.
Sendo professor universitário desde 1984, o que mudou nos estudantes dos anos 1980 para os de hoje?
A primeira coisa é que o cigarro foi substituído pelo celular (risos). Outra coisa é que, quando comecei a dar aula, os melhores alunos tinham uma cultura literária mais sólida. A geração que chega hoje é bem mais multifacetada, com uma visão de mundo mais fragmentária. Por outro lado, tem um contato muito maior com a palavra escrita do que a geração que passava o dia inteiro vendo televisão. Hoje, tem que ler, ler e escrever, nem que seja email. Não quero dizer que é pior, só acho que é diferente. Também é uma geração mais impaciente, menos tolerante, tudo tem que ser muito rápido.
O cotidiano como professor universitário pode oprimir o escritor?
Pode, sim. Mas eu tomei alguns cuidados. O primeiro deles é que sou professor de língua portuguesa, nunca dei aula de literatura. Isso é fundamental para me preservar e deixar a literatura num quarto escuro. O segundo cuidado foi o de não entrar na pós-graduação. Continuei professor "auleiro". Dou aula para graduação, tenho uma carga horária maior, turmas imensas, mas acho que isso aí me preserva. Mas sinto que o meu projeto universitário está se esgotando. Preciso pensar nos próximos dois, três anos o que eu vou fazer da vida.
Não pretende ir para a pós-graduação?
Não. Se eu entrar agora, é o fim do escritor. Não tenho mais energia para conciliar estudos teóricos e escrever ficção. Tem que ser mais novo para fazer isso. E eu escrevo com dificuldade: uma página, no máximo uma página e meia por dia.
De segunda a domingo?
Não, de segunda a sexta, como um funcionário público. Sou um funcionário público de mim mesmo. Sábado é dia de beber cerveja, ver jogo do Atlético-PR e sofrer (risos).
De volta à estante
Tezza comenta os relançamentos
Trapo (1988)
256 páginas, R$ 37,00
Meu livro de maior sucesso. Está na sétima ou oitava edição, passou por três editoras. E olha que, na primeira edição, tem um posfácio que falava mal, o único caso da literatura brasileira. É um livro geracional, sobre a juventude rebelde do final dos anos 70 e ainda hoje é muito lido pelos jovens. Eu considero assim, meu livro cult: a piazada sempre lê.
Aventuras provisórias (1989)
144 páginas, R$30,00
Escrevi em quatro meses, na primeira greve quando comecei a trabalhar como professor, no início dos anos 80. Foi recusado por um monte de editoras até que ganhou um prêmio Petrobras e foi editado pelo Mercado Aberto. Muito mal publicado, o livro ficou encalhado. Reescrevi por uma questão de estilo; me senti como um canivete afiando um lápis. Ficou com umas dez páginas a menos. Apesar de ter sido um livro muito judiado a vida toda, gosto da narrativa.
O Fantasma da infância (1994)
192 páginas, R$ 25,00
Tecnicamente, talvez seja o meu livro mais bem realizado do tipo de estrutura dupla. Duas histórias que correm paralelas: ambas são fortes, cada uma com um eixo de valor. E ao mesmo tempo recupera o personagem Juliano Pavollini de um livro anterior mas em outra estrutura narrativa.
 voltar voltar
|